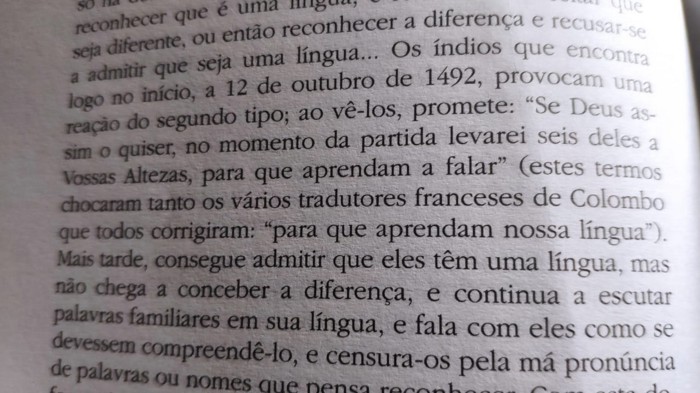OLHARES
Por Clementino Jr.
“Se Deus assim o quiser, no momento da partida, levarei seis deles a vossas Altezas para que aprendam a falar”
(Cristóvão Colombo sobre os nativos encontrados em outubro de 1492, por Tzvetan Todorov, em A Conquista da América — A questão do outro)
O dedo do conquistador, a.k.a. descobridor, vulgo “encobridor”, aponta “terra à vista”, pois pensa nos bens terrestres. Quem estiver pisando nestas terras também lhes pertence, pois, como diz o ditado posterior, “achado não é roubado”.
Aquele que aponta para a terra é quem define que quem acha, não rouba. Isso se estabelece porque quem acha passa a ser dono da terra ao achá-la. E quem aponta também se intimida ao ver, na sua mira, alguém, identificável como ele. Em aparência, no entanto, o “apontador” os assemelha ao que chamaria de homens e mulheres. Mas, ao mesmo tempo, identifica como algo que ele não entende, pois não entende o despudor da falta de roupa, não entende o tom da pele, a estatura, os olhos e não entende o que falam e muito menos considera, como na citação acima, que os sons que emitem sejam uma forma de comunicação.
Comunicare vem do latim e significa tornar comum. Para tornar comum, se pressupõe um mínimo de duas pessoas. Já refleti sobre “consenso” e o que se passa nesse momento está longe do consenso ou de uma comunicação efetiva. Mas legitima algo complexo que vira um dispositivo.
Michel Foucault, simplificando, entende a palavra dispositivo como a rede de mecanismos de toda ordem, dentro de uma sociedade, que garantem o exercício do poder: os mecanismos ditos e não ditos. O tema é muito complexo, mas costura o cristão colonizador (tradução de Cristóbal Colón?) a uma série de padronizações que são criadas para vestir os nativos do então novo mundo com as roupas, a língua e os hábitos daquele que aponta. Padrões que se seguem durante o tráfico negreiro, que desumanizam os que pisam na terra de maneira diferente de quem se apropria de um território ocupado, como se fosse seu, e lhe impõe outra dinâmica.
Com isso, apagaram-se muitas línguas, muitas memórias e, inclusive, muitas nações diferentes das europeias que disputaram esse espaço. Sim, uma disputa entre aqueles que são vistos como iguais diante dos que tiveram suas identidades apagadas e nunca foram percebidos como iguais.
Mas a história é escrita pelo vencedor e o vencedor é que narra seus apontamentos. Nessa história se criam os sentimentos e rótulos em povos assimilados, sequestrados, controlados, violentados e, nesses apontamentos, qualquer tipo de insurreição é visto como crime contra esse poder constituído. O dispositivo em Foucault ajuda muito a entender a institucionalização e a estruturação do racismo, principalmente porque as regras são claras — com trocadilhos, por favor. Mas o racismo, em si, não está regulamentado. A própria escravização não era regulamentada, mas alforria e libertação foram processos por demais burocratizados, além de constituírem espaços de disputa ideológica entre abolicionistas ou não.
Palavra que permeia inúmeras discussões, “alteridade” — aquela distinção entre seres humanos que quando juntos se compreendem diferentes e por isso administram esse convívio — deixa brechas tanto para a dominação quanto para a insurgência diante da dominação. Por isso o dominador sempre estabelece um padrão de desejo, um arquétipo, um modelo a ser alcançado que faz com que “o outro”, subjugado, queira estar “dentre os bons”. Reforço o gênero masculino nesse debate, pois representa bem os “apontamentos” que vêm de quando tudo era terra nova e tinham algumas pessoas não desejadas ali.
As diferenças sempre estiveram presentes, mas o momento em que surge esse dispositivo na descoberta do novo mundo cria — usando um termo infelizmente popular — um gatilho que provoca uma corrida por um eldorado e torna a última metade de milênio um problema para quem se vê no lugar “do outro”. No caso do narrador aqui presente, junto a qualquer pessoa que se identifique como igual, nos tornarmos primeira pessoa e virarmos “nós”, quem ainda nos enxergar como outro, provavelmente, não “fecha com nós”.
Outrora mencionei o jogo de palavras de Conceição Evaristo ao escrever, provocadoramente, “a gente combinamos de não morrer” e que tem um acerto no que o “apontador” diria erro, pois entende que nós e a gente “somos” iguais. Quem aponta nunca nos viu como gente e nem como algo que, em sua primeira pessoa, em sua perspectiva de game de guerra, em sua visão subjetiva, seria humanizada. Desumanização presente inclusive em decisões de quem aponta que tiram o acesso de quem é apontado ao direito a vacina e a recursos e direitos em tempos de pandemia.
Desumanizar é cumprir o dispositivo do poder, mas aí que nós mudamos o olhar e os padrões ao requisitar, para nós mesmos, o direito a nós. Somos primeira pessoa também e quem quiser ser “não nós”, que seja o nós que quiser. Mas a afirmação do eu e do nós vem sendo construída desde que nos roubaram esse direito, como quem invade um continente, trazendo roubo, estupro e doença. Entender o “outro que aponta” como “não nós” pode evitar que o gatilho disparado lá atrás, no encobrimento das Américas, como diz meu professor e amigo Celso Sanchez, se torne o estímulo para nós estarmos do lado de quem nos nega. Negação de direitos e da potência de quem, caso se igualassem os nós e os laços, nos veriam também como primeira pessoa e se veriam como terceira pessoa.
Somos primeiras pessoas independente de quem nos aponte.
Revisão crítica, Tayna Arruda