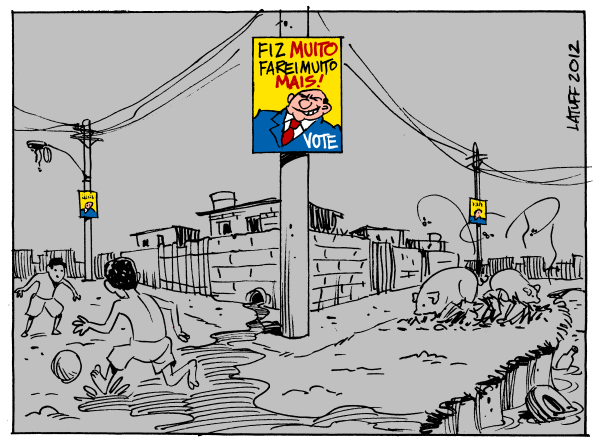Mitos e armadilhas do processo eleitoral: Como identificar e desmascarar interesses das classes dominantes em campanhas que tentam esconder a continuidade do atual sistema político-econômico.
Parece fácil, mas não é. Durante as campanhas eleitorais os partidos e candidatos adotam discursos conscientemente elaborados para agradar e conquistar eleitores, os quais quase sempre criam expectativas e esperanças que não se concretizam nunca. De modo geral, nós, eleitores, sempre temos muita dificuldade em desmontar as armadilhas que tais discursos carregam, pois ficamos envolvidos nas teias do marketing e nas mais sórdidas e inescrupulosas apelações emocionais. Desvendar o que está em jogo nas eleições tende a ser uma tarefa difícil, mas também necessária para se evitar equívoco político e mera ilusão sobre o que realmente pode ou não produzir alguma mudança ou transformação na realidade brasileira.
A campanha eleitoral já está nas ruas. É o evento mais importante da chamada democracia representativa. Teremos eleições gerais para a presidência da República, todos os governos estaduais, Câmara dos Deputados, renovação de 1/3 do Senado e para as assembleias legislativas. Milhões de reais serão gastos em poucos meses. Partidos e candidatos montam grandes estruturas regionais e nacionais, contratam marqueteiros, pesquisadores, assessores políticos, jornalistas e cabos eleitorais. Produzem materiais impressos, programas de TV e rádio e inundam as redes sociais com propaganda, contrapropaganda e tudo o que possa enfraquecer e destruir os adversários.
A disputa costuma ser animada porque interessa aos grupos dominantes (empresários, banqueiros, ruralistas, altos funcionários do Estado e grandes proprietários em geral) envolver a população no aspecto mais lúdico do processo eleitoral, sarcasticamente chamado de “jornada cívica” ou “festa democrática”. A participação da população, nas urnas, fornece legitimidade ao sistema. No fundo, o que importa mesmo para as classes dominantes é manter o controle do Poder Público, dos órgãos executivos e legislativos, de tal maneira que seus valores e seus privilégios sejam preservados por mais quatro anos, e assim sucessivamente. Por meio de eleições manejadas pelo poder econômico (financiamento das campanhas, sustentação dos meios de comunicação e pressão sobre os trabalhadores assalariados), os eleitos asseguram que o Estado continuará sendo expressão não do conjunto da sociedade, mas daqueles que realmente mandam no país.
Neste ano as principais candidaturas para presidente e para governadores congregam grupos de partidos e de apoiadores que não se identificam por ideologias ou programas, nem por trajetórias de filiação e militância, mas tão somente pela conveniência das alianças fisiológicas e em função de interesses regionais. Por isso mesmo, com exceção dos partidos da esquerda programática (PSOL, PCB, PSTU e PCO), todos os demais partidos estão coligados entre si, em alguma campanha estadual. Em São Paulo, por exemplo, o PP de Maluf apoia o PMDB na campanha estadual e o PT na campanha nacional; em alguns estados o PP apoia o PSDB ou o PSB. No Rio, campanha estadual do PMDB com a DEM está dividida na campanha nacional entre candidaturas do PT e do PSDB, assim como a candidatura estadual do PT tem apoio do PSB. Enfim, querer encontrar definição programática e ideológica no emaranhado das coligações é procurar pelo em ovo. Se todos estão juntos e misturados, como fazer a distinção entre as diferentes propostas para a sociedade? Existe real divergência ou antagonismo entre elas? O programa de uma articulação exclui os programas das demais? A ideia da mudança é simples peça retórica ou tem fundamentação? Existe alguma ruptura à vista?
Todas essas questões fazem parte do nosso mecanismo natural para entender e analisar o sentido maior do que deveria ser um processo eleitoral: a escolha de um projeto para a sociedade com o devido elenco de prioridades e ações. Quando votamos geralmente escolhemos a proposta que queremos ver aplicada, que possa ser cumprida e que proporcione todos os benefícios contidos em sua promessa. Pelo menos deveria ser assim. Ninguém escolhe e vota no pior. Todos nós queremos um país melhor, uma vida melhor, uma sociedade mais justa, igualitária, livre e desenvolvida. Por isso é tão importante que a gente consiga identificar nas várias candidaturas, mesmo quando não expressam todo o leque político, qual delas – excluindo a manipulação marqueteira e a demagogia eleitoreira – pode significar algum passo na direção do sonho coletivo.
QUESTÃO DE FUNDO
Sabemos muito bem que os maiores problemas da sociedade brasileira estão diretamente relacionados com o tipo de modelo político-econômico vigente. Importa, assim, verificar se as principais campanhas (candidaturas e articulações político-partidárias) representam aqueles que mais sofrem com os maiores problemas, aqueles que mais precisam da ação do Estado, aqueles que são excluídos das riquezas e espoliados do que produzem. Afinal, entre os principais candidatos, aqueles com maiores chances de assumir o governo nos próximos anos, qual expressa prioritariamente os interesses dos trabalhadores e dos despossuídos? Qual deles assume compromissos claros com as transformações que o país requer há muitas décadas, entre as quais as reformas adiadas desde o golpe de 1964? Se não existe tal candidatura, se os mais fortes candidatos têm mais a ver com os grupos dominantes do que com a maioria do povo, então não representam também nenhuma mudança significativa, mas a continuidade do que está aí, mesmo quando acenam com a retórica da mudança ou de algo novo ou mais avançado e progressista.
Sabemos de longa data que a burguesia brasileira não tem compromisso histórico com projeto independente de desenvolvimento nacional, com afirmação de soberania e com a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária. A burguesia nacional tem apostado em projetos de subordinação do país aos interesses coloniais e imperiais (Portugal, Inglaterra, Estados Unidos) e ao capital internacional – estadunidense, europeu, japonês, coreano e mais recentemente chinês. Os principais grupos brasileiros adoram a condição de parceiros e sócios secundários dos grupos estrangeiros que atuam no Brasil, na exploração das atividades extrativistas, na exportação de matérias primas, produtos primários e tudo o que possa gerar commodities. Para eles, o que importa é a conta bancária, de preferência em moeda estrangeira e em banco no exterior.
O projeto da burguesia não visa o desenvolvimento humano, a formação da cidadania, a elevação do nível cultural e a consolidação de direitos iguais para todos; quando muito procura subordinar parcela do povo em trabalho mal remunerado e nas ondas de consumo criadas para reproduzir a acumulação de capital. Por isso temos carência de moradia, educação, saúde e transportes públicos, e abundância de carros, televisores, aparelhos eletrônicos, computadores e celulares – geralmente importados ou montados aqui para quem tem dinheiro.
Daí as perguntas obrigatórias: É possível que uma candidatura apoiada e comprometida com a burguesia nacional possa, ao mesmo tempo, levar adiante as demandas da maioria do povo brasileiro? Dá para fazer uma política de distribuição da renda e da riqueza, promover direitos iguais para todos, proteger os que precisam do amparo do Estado, fazer ampla reforma agrária e urbana e ao mesmo tempo manter os privilégios das elites, dos grandes grupos econômicos e dos ricos? Por que, então, em tantos anos de governos eleitos pelo povo, com candidatos oriundos do campo da esquerda, primeiro do PSDB (oito anos) e depois do PT (doze anos), a sociedade brasileira não conseguiu mudar a estrutura fundiária, não conseguiu acabar com a especulação imobiliária nas cidades, não conseguiu universalizar serviços públicos de qualidade, não conseguiu democratizar o sistema de comunicação social, não conseguiu acabar com as polícias militares, não conseguiu reduzir a violação dos direitos humanos, não conseguiu garantir o respeito às liberdades democráticas? Isso não deveria ser o programa mínimo de qualquer candidatura sintonizada com a vontade popular?
Veja bem, não estamos falando de uma sociedade socialista ou com desenvolvimento humano (IDH) compatível com seu poderio econômico (PIB), mas da dificuldade histórica de se conquistar avanços concretos numa sociedade dominada por uma minoria que não abre mão de seus valores, de sua riqueza e de seus privilégios.
TEORIA DO MENOS PIOR
Tem sido mito nas eleições brasileiras, antes e após o longo período da Ditadura Militar, o raciocínio quase dogmático segundo qual devemos, na ausência de candidaturas identificadas com o povo e com um programa transformador, apoiar e votar no “menos pior”. Há várias eleições que esse tipo de pregação pelo “voto útil” ganha adeptos entre intelectuais e militantes, entre lutadores e analistas, entre pessoas com bom nível cultural e boa formação política. Sempre a escolha do “menos pior” está associada à interpretação de que não podemos jamais contribuir para o pior: no caso, o que consideramos pior para o lado ao qual estamos filiados, o lado dos trabalhadores, o lado das forças populares que se opõem ao modelo político-econômico dominante e ao capitalismo. De acordo com essa visão, pior será tudo aquilo que possa prejudicar a correlação de forças na luta de classes que existe na sociedade. Em resumo, tal mito estabelece que não votar no “menos pior” será abrir espaço e fortalecer o pior para os trabalhadores, para as esquerdas e, enfim, para a sociedade.
No entanto, a experiência concreta tem demonstrado que esse tipo de demarcação eleitoral não tem, de maneira alguma, alterado a correlação de forças favoravelmente ao campo da esquerda, mas, ao contrário, a esquerda fica mais fragilizada a cada eleição em que os segmentos populares descarregam o voto na candidatura “menos pior”. Isso acontece porque a eleição do “menos pior” não tem impedido que após a eleição o “menos pior” permaneça refém das classes e grupos dominantes, mesmo porque tal sequestro começa no próprio processo eleitoral, pelas concessões de toda ordem e pelas dívidas e acordos das campanhas.
Tem quem argumente que já é uma grande vantagem quando o “menos pior” não ataca e não persegue os trabalhadores, e que a situação poderia ficar muito pior com a vitória de forças políticas mais identificadas com o sistema dominante. Essa argumentação tem lógica, mas não tem sustentação na realidade. Na prática, o enfraquecimento da esquerda demonstra que votar e eleger o “menos pior” (para os trabalhadores, as camadas populares e as esquerdas) tem contribuído para fortalecer os setores conservadores e a exploração capitalista, já que o governo “menos pior” gera falsas expectativas nas classes populares, acomoda a luta dos movimentos sociais e das esquerdas, além de continuar fiel cumpridor das exigências e dos interesses das classes dominantes.
Basta verificar que a cada eleição o programa reformista do “menos pior” fica mais rebaixado, seja porque a cobrança da esquerda está mais fragilizada, seja porque as concessões à direita são sempre maiores. Tanto é que não temos mais debates e confrontos de programas ou de projetos de nação, não existem ameaças de rupturas, apenas o pirotécnico leilão de peças publicitárias e de coisas mirabolantes criadas pelo marketing das campanhas.
O que aconteceria se uma parcela expressiva do povo, apoiada por movimentos sociais populares e por partidos de esquerda, deixasse de votar e eleger o candidato “menos pior” e, por conseguinte, passasse a exigir candidatos melhores realmente identificados com as demandas da maioria? Com certeza, o círculo vicioso do rebaixamento político e da banalização eleitoral poderia se romper. E, com certeza, toda essa gente trataria de construir instrumentos autênticos e leais aos interesses dos trabalhadores e da maioria. Não seria esse um caminho mais efetivo para usar o processo eleitoral com o objetivo de alterar a correlação de forças a favor do campo anticapitalista e da construção de governos com programas concretos de transformação da sociedade? Não é o caso de abandonarmos de vez o mito do “menos pior” e nos livrarmos dessa armadilha montada pelas classes e grupos dominantes?
Já que na atual conjuntura não temos força para mudar o sistema eleitoral, que tal tentarmos uma simples ruptura nessas eleições: não apoiar e não votar em candidatos vinculados aos grupos empresariais. E só votar, isto sim, em candidatos que se oponham ao sistema político-econômico dominante, mesmo que estes não tenham – no momento – nenhuma chance de vitória. Esse, afinal, pode ser um grande passo para a mudança que tanto almejamos. Só depende da nossa coragem.
(*) A autoria desta matéria foi corrigida em 29/07 às 09h10. O autor desta matéria é Hamilton Octavio de Souza, jornalista e professor.